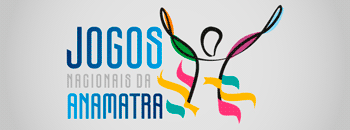Nada mais comum, desde há muitos anos, que a crítica contundente ao nosso sistema de relações coletivas do trabalho, sempre sob a tônica de que a legislação brasileira persiste em carregar fortes traços de um modelo influenciado pelo fascismo italiano, próprio da época em que Vargas flertava com as idéias de Mussolini, muito embora tenha terminado, mesmo, namorando os “Aliados”, contra o “Eixo”, na Segunda Guerra Mundial.
Aliás, esse comportamento claudicante não foi obra apenas do nosso ditador. O déspota Stalin, da URSS, em 1939, para preservar seu espaço de poder autocrático, chegou a firmar com Hitler o “pacto de não-agressão”. Não por ironia do destino, foram os soldados do Estado Socialista Soviético que iniciaram o processo de desmoronamento das tropas nazistas, dentro e fora da Rússia, evitando, assim, uma tragédia ainda maior para a Humanidade.
Basta, porém, analisar os fatos com isenção, para ser rechaçada a tese de existência de algum vínculo entre as conquistas alcançadas pelos trabalhadores brasileiros e a concepção nazi-fascista do Estado. Carece de investigação e confirmação científica a pertinência do tributo conferido a Getúlio pelos avanços dos direitos individuais trabalhistas, consubstanciados nas férias anuais remuneradas, décimo terceiro salário, fixação da jornada, salário mínimo, remuneração adicional do trabalho insalubre ou perigoso, além de outras vantagens previstas na CLT e em leis esparsas.
Por outro lado, e aqui a crítica é irrefutável, o Estado controlador dos movimentos sociais de Vargas superou-se na institucionalização de um modelo sindical umbilicalmente atrelado ao poder público.
Nem mesmo o decurso de período superior a 60 (sessenta) anos, com duas constituições democráticas intercorrentes, foi capaz de eliminar alguns dos pilares desse sistema retrógrado. Dentre eles destacam-se a unicidade da representação sindical numa mesma base territorial e a contribuição compulsória, conhecida como imposto sindical, cobrada de todos os empregados, sejam sindicalizados ou não.
Nem tudo foi tão ruim, é verdade. A Carta Política vigente ensejou, pelo menos, sepultar o controle direto das atividades sindicais pelo Estado, extirpando do sistema a autorização para funcionamento, a fiscalização e a intervenção.
Agora, o Poder Executivo anuncia o encaminhamento de projeto de lei e de proposta de emenda constitucional para romper com aqueles resquícios ultrapassados paridos pelo Estado Novo. Sinaliza-se para a substituição do imposto compulsório por contribuições definidas em assembléias das categorias profissionais. Aponta-se também para a positivação do princípio da prevalência da norma mais benéfica ao empregado, bem como para a autorização da organização obreira nos próprios locais de trabalho e a penalização das condutas anti-sindicais.
Caminhando na contramão dessas algumas boas iniciativas, a proposta governamental não elimina a unicidade sindical, ao preconizar que aos atuais sindicatos será assegurado o monopólio da representatividade desde que comprovem determinado número mínimo de filiados.
Na mesma linha, evidencia-se o manifesto desejo de concentração de poder nas cúpulas das entidades sindicais, ao pretender-se propiciar-lhes o privilégio injustificável de instituir sindicatos sem a observância dos quoruns previstos em lei, bem assim ensejar-lhes a imposição, de cima para baixo, de cláusulas em acordosnacionais.
No quadro que se desenha, a criação de entidades sindicais será tarefa das mais árduas, restando praticamente inviabilizado o natural nascimento de movimentos contrários aos atuais detentores do poder sindical.
Não é bem-vinda a iniciativa que busca abrir uma brecha no texto constitucional, a ser preenchida por via de lei ou de sórdida medida provisória bonapartista. Muito menos o ensaio de retrocesso quanto ao papel do Estado na certificação da representatividade sindical. Numa perspectiva de efetiva liberdade sindical, não só devem ser expurgados o imposto compulsório e a unicidade, como também propiciados meios para se assegurar autonomia financeira aos sindicatos.
Contudo, não contribui a intenção deflagrada recentemente, de se pretender votar a toque de caixa o projeto de lei que torna compulsórias, também para não-sindicalizados, as contribuições assistencial e confederativa, ainda que limitadas a percentuais reduzidos de sorte a eliminar os abusos. Não dá para identificar se os sindicatos estão iludindo os parlamentares ou se está ocorrendo o inverso ou, ainda, ambas as coisas. Ora, o impasse não se supera apenas com o necessário controle dos abusos.
Há de se considerar a inarredabilidade do princípio constitucional da liberdade sindical, que não se compadece com a compulsoriedade de contribuições. Seguramente a lei não romperá a inconstitucionalidade já assentada pelo Supremo Tribunal Federal.
As Centrais, por força da própria realidade fática, devem ser reconhecidas como as entidades maiores da estrutura sindical, sem que seja permitido, porém, um modelo hierarquizante, já que devem ser controladas pela base.
Ainda na prospecção da efetiva liberdade sindical, além da positivação do princípio da norma mais benéfica, da vigência da norma coletiva enquanto não suplantada expressamente por outra, da não-obrigatoriedade da negociação coletiva, da substituição processual ampla, é indispensável a efetiva democratização das relações coletivas. Isso somente será viabilizado a partir da garantia de estabilidade a todos os empregados, do exercício do direito de greve sem restrições por parte do Estado e da inclusão no movimento sindical dos milhões de trabalhadores desempregados e de outros tantos não-empregados, atualmente sem qualquer referencial enquanto categoria profissional e, portanto, desprovidos de mínimos instrumentos para melhoria de sua condição de vida.
A fraternidade exige dos sindicatos a luta pela integração de todos os excluídos, privilegiando a defesa dos segmentos mais pobres e discriminados, bem como de interesses maiores de toda a Humanidade, como sejam a proteção ao meio ambiente e o desarmamento global.
A não ser assim, afetados que foram pela globalização, pelo neoliberalismo, pela terceirização e pelo ocaso do temor do socialismo, os sindicatos não resistirão e passarão a atuar em limites cada vez mais estreitos, forjando lideranças cada vez mais conformistas com resultados pífios para as categorias que pretendam representar.
Não estamos tratando de tema de somenos importância, mas, sim, de pressuposto fundamental para a concretização do Estado Democrático de Direito e de valorização dos ideais de justiça social.
Sem sindicatos livres, independentes e politicamente fortes, perde a classe trabalhadora nacional e perde a Nação, que não conseguirá superar os seus dramas sociais, subjacentes à elevada concentração de renda e refletidos na miséria reinante em todos os quadrantes do país. Essas considerações refletem o posicionamento e a orientação da Anamatra, enquanto coletividade dos magistrados trabalhistas brasileiros.